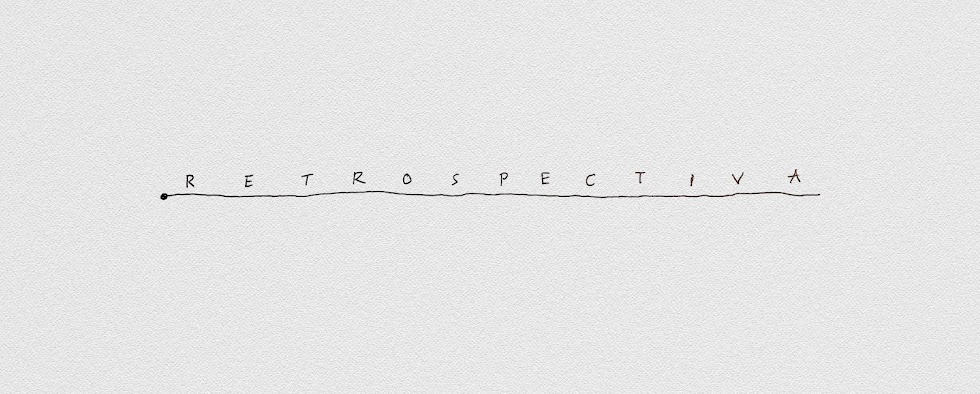ANTROPÓLOGO [em formação]
vs. ARTISTA [em (de)formação]
GUILHERME — Podes começar por te apresentar. Dizer como chegaste até onde estás agora. Fazer assim um apanhado do teu percurso artístico...
ROGÉRIO — Um apanhado... Bem, já fiz isto tantas vezes, já devia ter criado um modelo qualquer, não era? Mas não criei... Bom, chamo-me Rogério, tenho 27 anos e faço... crio objectos artísticos no campo das artes performativas desde sensivelmente 2002. Embora tenha começado a trabalhar como intérprete antes, só decidi começar a criar os meus próprios objectos a partir de 2002. Não sei o que é que eu posso dizer mais em relação a isto, a não ser o facto de ter sempre chegado às coisas sem as ter preparado muito, no sentido de criar um caminho com objectivos e isso... Ou seja, eu fui sempre parar às coisas um bocadinho por arrasto, ou porque outras coisas exteriores a mim me puxavam para lá, ou porque as coisas iam acontecendo sem eu dar conta. A decisão de ter começado a trabalhar em teatro nunca foi propriamente uma decisão; as coisas foram acontecendo, umas foram ganhando autonomia, foram-se sobrepondo a outras. Algo que me acontece muitas vezes é: eu dou por mim e já estou... Isto por acaso até tem piada; agora, que já sou isto que sou conscientemente, que já me assumo como tal, acho que continua a acontecer muito esta coisa do “dou por mim e já estou ali”. É talvez uma das coisas, não sendo porém a principal, que pode definir a minha maneira de estar na performance, e a minha maneira de fazer e de criar performance também. Posso falar-te um pouco do projecto mais recente que tenho desenvolvido, que é o FUI...
GUILHERME — Pode ser...
ROGÉRIO — ...que tem justamente esta premissa de eu partir para o trabalho sem qualquer ideia preconcebida a não ser a própria ideia do projecto. O projecto (no sentido de ideia imaterial desprovida de concretização ou de "materialidade") é uma coisa que me interessa particularmente, essa ideia do projecto poder ser mais importante que a sua concretização, quase que a anulando... Eu parto para um determinado projecto que tem determinadas características, tem um título algumas vezes, tem uma base que é o meu trabalho, a minha história, a minha vida, o meu currículo, aquilo que fiz até chegar aqui, e vai ter uma outra história que terá a ver com a sua execução, e que é o sítio onde eu o vou realizar, o festival ou a estrutura ou o contexto que me vão acolher, a pessoa que me convidou, ou o dia específico em que o vou fazer, ou a fase do ano em que o vou fazer... São todas estas coisas que vão definir aquilo que será a concretização do FUI.
GUILHERME — Daí os esboços...
ROGÉRIO — Daí os esboços. Daí eu chamar a cada experiência ou a cada oportunidade em que o espectáculo acontece um esboço, porque nunca chega a ser um trabalho finalizado no sentido convencional do termo. Nem tão pouco tem essa pretensão. Digamos que essa pretensão existe, mas a um nível qualquer subterrâneo. E por isso é que de cada vez que ele é apresentado é diferente, de cada vez que ele é apresentado trata-se de uma possível experiência para uma possível concretização. Mesmo quando o único factor que muda é o dia da apresentação, isso basta para que o esboço seja diferente; nesse dia aconteceram-me coisas que não aconteceram no dia anterior. Por exemplo, eu vou fazer um esboço à Casa Conveniente, chego lá e já está, já está feito, a Casa Conveniente já existe e já me está a dar metade do trabalho feito... A partir do momento em que uma prostituta, que trabalha naquela zona, me recebe e me dá as boas vindas no primeiro dia de ensaio, como se o espaço fosse dela, automaticamente ela entra no espectáculo.
GUILHERME — Outros trabalhos que tenhas feito, como o Vou A Tua Casa. Na altura em que te conheci era o que estava em andamento...
ROGÉRIO — O Vou A Tua Casa é o meu projecto mais demorado no tempo; antes de ser um projecto de criação, o Vou A Tua Casa é um projecto de pesquisa. Começou por ser um projecto apenas e só de pesquisa, depois passou por uma zona de consolidação em termos práticos, depois voltou a ser um projecto essencialmente de pesquisa. Neste momento, e depois de quase três anos de trabalho, está numa fase de rescaldo, de deixar assentar o pó... E vai entrar naquela que para mim será a segunda grande fase da vida deste projecto (dividida que está a primeira em três outras partes)... portanto: as três partes da trilogia, em que a componente teórica e de pesquisa estiveram sempre de mãos dadas com a componente de performance e de apresentação pública (conquanto eu ache mais importante a componente de pesquisa)... e, agora que essa fase acabou, há duas coisas que estão por fazer: uma é re-iniciar e levar a bom porto a terceira parte [LADO C], que foi suspensa por falta de apoios (algo que tenciono fazer durante o primeiro semestre deste ano); a outra tem a ver com a documentação e com o arquivo, as quais, a par do projecto, de que te falei há pouco, são para mim as duas dimensões mais importantes do meu trabalho como criador: uma parte que antecede (projectual) e uma parte que sucede (residual) o momento da execução. Eu quase que arriscaria dizer que esta coisa que fica aqui no meio, que é quase como se fosse o “momento presente” em que as coisas realmente acontecem e são apresentadas, interessa-me muito pouco e cada vez menos.
GUILHERME — Isso tem uma certa ligação com o FUI. Pelo menos com o esboço que eu conheci mais de perto...
ROGÉRIO — Tem, sim... Esse esboço que viste no Teatro Taborda era justa e especificamente sobre isso: como é que tu anulas o tempo presente de uma performance (ainda que num plano arriscadamente “teórico-demagógico”) para privilegiares o tempo passado, aquilo que antecedeu o tempo da apresentação. No caso do Vou A Tua Casa, a fase que se seguirá tem a ver especificamente com a documentação e com o arquivo. Durante a residência que fiz em Torres Vedras, em Novembro passado, desenvolvi um esboço de FUI ao qual chamei "versão Torres Vedras". Uma das componentes desse esboço foi justamente a tentativa de documentar o Vou A Tua Casa. Decidi voltar a entrar em contacto com os espectadores que tinham assistido ao espectáculo em 2004, voltar a entrar em contacto com os sítios onde as coisas tinham acontecido, e tentei perceber quais seriam as possibilidades de documentar um projecto cuja principal natureza é a pesquisa, a um nível "inicial", e o resíduo, a um nível "final". Como é que eu documento um projecto que, quanto mais não seja na minha cabeça, elimina da sua lista de prioridades o momento em que de facto acontece? Os resultados que consegui em Torres Vedras, apesar de muito embrionários, deverão ter continuidade no “Projecto de Documentação” deste ano.
GUILHERME — Uma das coisas que li no teu blog estava exactamente relacionada com a falta de apoios... Tu tinhas posts com várias cartas que tinhas escrito e que...
ROGÉRIO — ...e as que tinha recebido.
GUILHERME — ...não te frustra de alguma maneira esse tipo de coisas? Incorporas no teu trabalho?
ROGÉRIO — Não me frustra. Incorporo no meu trabalho. (risos)
GUILHERME — Assim, taxativamente?
GUILHERME — Sobre o Dogma 2005... Tive contacto com ele no esboço do Taborda. O que é que ele representa para ti? O que é que pretendes fazer com aquele texto? Se estás a mostrar aquilo às pessoas, pretendes algo...
ROGÉRIO — A ideia do “dogma” surgiu quando eu comecei a trabalhar na terceira parte do Vou A Tua Casa, o LADO C. Durante o processo de pesquisa (que ainda continua), eu convidei algumas pessoas para serem observadoras: pessoas do campo da criação, do campo da pesquisa e da análise de performance, da história de arte, da curadoria, do marketing, etc. Ao longo desse processo, uma das grandes questões que surgiu foi a questão da especialização, ou seja, uma espécie de afunilização do meu trabalho, quase no sentido da criação de um qualquer modus operandi, uma forma de olhar para as coisas e de as trabalhar, criando com isso uma espécie de tese, uma tese de pesquisa, mas também e curiosamente, uma tese colocada ao nível da própria execução... Quando comecei a desenvolver essa questão da especialização, surgiu uma pergunta óbvia e inevitável: que raio era isto em que eu me estava a especializar? Eu percebi que tinha muito a ver com esta confusão entre a vida e a performance e todas aquelas coisas que qualquer pessoa que conhece o projecto, mesmo que mal, consegue depreender depois de algumas leituras diagonais ao blog. Quando os observadores me colocaram perante a hipótese (eu diria mais a “obrigação”) de ter que falar e produzir um discurso sobre essa questão, colocaram-me num território que eu ainda não tinha assumido de maneira mais taxativa, que é: como é que eu vejo a arte de uma maneira geral, como é que eu olho para as outras pessoas que também são artistas como eu, como é que eu me posiciono perante elas, como é que me posiciono perante as instituições que os apoiam, como é que me posiciono perante este País, como é que me posiciono perante o meu próprio trabalho e a minha história, e, em último grau, como é que me posiciono perante este trabalho específico que é o Vou A Tua Casa e a sua importância em relação às outras coisas todas que disse atrás. O tipo de discurso de cariz profundamente dogmático (aos ouvidos e aos olhos de quem o ouvia e de quem o lia) impôs-se. E eu, a partir desse instante, decidi aproveitar o potencial performativo da coisa. Tive vontade de transformar essa intenção em algo de concreto, que pudesse existir independentemente daquilo que se lê nas entrelinhas do meu trabalho... Ou seja, o “dogma” começou por ser apenas e só um texto que pudesse ser o retrato possível do Vou A Tua Casa e daquilo que eu defendo para esse projecto, ao nível da criação, da pesquisa, da apresentação pública, da influência prevista por parte do contexto social, cultural, institucional, etc... Todas essas dimensões deveriam estar no texto, em doses diferenciadas, mas representativas daquilo que o projecto significa para mim. Quando comecei a escrevinhar umas coisas no computador, a coisa começou a degenerar e a espalhar-se para outras direcções; e então pensei: isto bem feito (risos), podia ser transformado num conjunto de regras, num modelo possível de trabalho que pudesse inclusivamente vir a ser utilizado por outros criadores que não eu.
GUILHERME — Eu confesso que a primeira vez que o li, ele pareceu-me realmente um manual prático das artes em geral, que talvez não se aplicasse exclusivamente a uma área ou outra, em específico.
ROGÉRIO — Sim, concordo. Aliás, o texto é concluído com essa intenção, de que outras áreas artísticas, para além do teatro e da performance, possam eventualmente vir a utilizá-lo. Agora, não faço a mínima ideia do que vai acontecer a seguir... Neste momento, a minha vontade é de voltar ao texto, de o melhorar. A versão que tu tens, a que te foi entregue no Taborda, é um texto... eu chamo-lhe de texto performativo, no sentido em que foi escrito com a intenção primeira de vir a ser lido em performance; ou seja, há uma série de coisas que vão ter que ser “limpas” e apuradas, para o transformar realmente num objecto autónomo, e não numa coisa demasiado presa a um espectáculo, que ainda por cima não vai voltar a acontecer. Para que o “dogma” seja realmente um manual prático, e para que funcione como um reflexo exemplar daquilo que pode ser um possível modelo dogmático de trabalho, há coisas que faltam. Há uma coisa muito importante que falta ali que é o discurso sobre aquilo que se faz, feito pelo próprio sujeito executante. Outro ponto que tem que ser desenvolvido e traduzido em regras tem a ver, justamente, com a documentação.
GUILHERME — Vês o Dogma 2005 como uma espécie de documentação do teu trabalho, já? Ainda muito primário talvez, muito em bruto, mas que poderá resultar...
ROGÉRIO — Não, não vejo... O “dogma” é um objecto finito. E é, para mim também, uma missão cumprida. Há uma série de coisas que fazem parte do imaginário da história da arte, nomeadamente a do século XX, que me fascinam como conhecedor, que me fazem ser fã... (ser fã é uma coisa muito benéfica, quando bem utilizada); não tem nada a ver com “ter referências” (falar-se em “ter referências”, hoje em dia, é perfeitamente inútil e redundante), mas antes com o facto de nos identificarmos, quase a um nível inconsciente, com uma série de coisas, e termos essas coisas não como metas concretas a atingir, mas como formas/fórmulas de pensar e de trabalhar sobre as coisas que queremos pensar e trabalhar. Uma dessas coisas que me fascinam, e que infelizmente, no tempo em que vivemos, existe em muito pequena escala (pelo menos, a importância que se dá a isso é diminuta...), tem a ver com a fixação por escrito daquilo que tu, como artista, como criador, defendes para o teu trabalho, para a tua vida, para as coisas que estão à tua volta e que comunicam com o teu trabalho e com a tua vida. No início do século passado, com os primeiros movimentos de vanguarda, mas também pelo contexto económico, político, social que se vivia na altura, havia muito essa figura dos artistas se corresponderem, que hoje praticamente não existe, exceptuando talvez alguns meios literários mais bafientos. A verdade é que é possível situares certos trabalhos, ou certos conjuntos de trabalhos, ou certas correntes, que valem muito mais por aquilo que por escrito se produziu sobre elas do que propriamente pelas obras em concreto. Isto fascina-me. O "dogma" é um primeiro impulso meu de aproximação a esse imaginário do qual sou fã. E vai bater uma vez mais naquilo que te disse há pouco sobre a importância...
GUILHERME — ...do antecedente em detrimento do presente.
ROGÉRIO — Há um espectáculo que estreei em 2004 no Centro Cultural de Belém que se intitula ACTOR, e que assenta nesta premissa do projecto (neste caso, o projecto “performativo”, ou o guião...) ser (ou poder ser) mais importante do que a sua execução. E posso dar-te uma imagem desse espectáculo, que era logo o início, e que acontecia no exacto momento em que o público chegava ao foyer: enquanto esperavam, era-lhes dado o guião do espectáculo, com a descrição exacta das cenas que iam acontecer a seguir. Sempre me interessou esta componente da fixação escrita da performance; como disse, ela é sempre, para mim, muito mais interessante do que a sua execução. E era também esse o desafio que eu lançava aos espectadores: seguirem o guião ou seguirem o espectáculo. Ou então desistirem dos dois, por excesso de informação ou por anulação dessa coisa que é o "efeito surpresa" (coisa ainda tão estupidamente necessária para os espectáculos que se fazem...).
GUILHERME — Visão um bocado antropológica da coisa...
ROGÉRIO — Por causa da descrição do ritual todo, sim... Essa ideia da performance como ritual, que todas as pessoas dominam, quer tenham ou não lido o texto da Erika Fischer-Lichte, interessa-me vivamente. A performance, por muito próxima que esteja de uma qualquer ideia de imprevisibilidade e/ou de arbitrariedade, é sempre um conjunto de normas, não lhe chamaria de regras, mas um conjunto de normas, que existem sempre, estejam elas escritas ou não.
GUILHERME — Nem que seja para não serem cumpridas...
ROGÉRIO — ...nem que seja para não serem cumpridas! E isso acontecia no ACTOR, de facto, mas só para as pessoas que não desistiam, que se permitiam a ficar até ao fim...
GUILHERME — Há uma outra coisa... Pronto, vamos sempre bater à mesma tecla, mas eu tenho uma certa dificuldade em deixar isto...
ROGÉRIO (risos) ...o meu trabalho é muito circular, talvez excessivamente circular e circulatório. Acontece sempre, nas conversas, irmos parar ao sítio onde começámos. É muito complicado perdermo-nos quando nos propomos a falar sobre o meu trabalho, porque ele é tipo pescadinha de rabo na boca. Há quem diga que vai chegar o dia em que ele vai implodir...
GUILHERME — Mas também mostra consistência, pelo menos por enquanto...
ROGÉRIO — Eu não acho que isso seja sinónimo de consistência; ajuda, mas não é necessariamente sinónimo de consistência. Nem de consistência, nem de coerência. Embora essas sejam coisas que eu persiga quase doentiamente...
GUILHERME — Será sinónimo de quê então?
ROGÉRIO — Acho que não é sinónimo de nada, é apenas isso, circularidade... As coisas alimentam-se umas às outras, contaminam-se, aglutinam-se, confundem-se às vezes, e vão sempre parar ao mesmo sítio de onde vieram. Na verdade, estou sempre a fazer o mesmo espectáculo. E depois de alguns anos a massacrar-me, acho que começo a descobrir que sítio é esse de onde venho e onde vou sempre parar; esse sítio sou eu. Por muito que me afaste quilómetros de distância da minha pessoa, venho sempre ter aqui.
GUILHERME — Não te consegues afastar infinitamente...
ROGÉRIO — Posso voltar a falar-te do ACTOR, que terminava com um vídeo com uma dimensão muito parodial, e que funcionava como uma "metáfora" capaz de explicar bem essa circularidade e esse “voltar a mim” de que te falo. Como disse, eu começava por dar o guião às pessoas e depois seguiam-se uma série de cenas em que eu me propunha a falar sobre várias coisas que tinham a ver com o contexto que estava a acolher aquele trabalho (o CCB), o facto de estarem a classificar aquele espectáculo como espectáculo de dança, a minha própria formação (quer como actor, quer como actor que está a fazer um espectáculo que dizem ser de dança), o facto de me ter inspirado na “Preparação do Actor” do Stanislavski (que eu nunca tinha estudado antes) e por aí fora... Ou seja, todo um conjunto de realidades que estavam à minha volta e que me perseguiram durante a fase de processo, e que eu decidi convocar para o espectáculo, para depois no final “voltar a mim”, voltar ao sítio de onde as coisas todas partiram. E quando digo “voltar a mim”, refiro-me muito especificamente às minhas raízes mais profundas, à minha infância, à minha família, à minha educação, à minha terra (onde eu vivi até aos 18 anos, tempos de formação muito mais importantes para mim e para o meu trabalho do que propriamente o facto de ter começado a ler Nietzsche ou a frequentar uns lugares chiques em Lisboa). E então no final havia um vídeo em que eu aparecia encarnando uma minhota boçal e folclórica, a dançar umas coisas que aprendi no Centro em Movimento, com uma série de informação escrita sobreposta que acabava por fazer uma espécie de síntese do espectáculo, fechando-o portanto, ou unindo o rabo à boca da pescadinha.
GUILHERME — Desse ponto de vista, consideras as tuas performances, ou o teu trabalho, reflexivo ou auto-reflexivo?
ROGÉRIO — No sentido autobiográfico do termo? Não...
GUILHERME — Não, no sentido de... Sempre que voltas a ti, se voltas igual, ou se há transformações?
ROGÉRIO — O trabalho não me transforma, as performances não mudam a minha vida, a minha vida é que muda as performances. A minha vida é mudada pelas pessoas que estão à minha volta e pelas "coisas da vida" que me vão acontecendo. Agora as performances não... as performances não são "coisas da vida"...
GUILHERME — Mas tendo em conta a tua visão de performance como algo que não se separa da vida...
ROGÉRIO — Porque ela está lá, está na vida, mas não a muda. Quanto muito é a vida que muda a performance...
GUILHERME — Então a performance é uma parte da tua vida ou...
ROGÉRIO — ...ou é a vida? Olha, é uma coisa que fica aí no meio! (risos) Ela não é a vida, porque a minha vida é a minha vida. Ela está na vida, mas não posso dizer que seja uma dimensão da minha vida, como por exemplo “os meus amigos, “a minha casa”, “a minha família”, “as minhas emoções” o são; ou seja, a performance está nestas coisas todas, mas não transforma nenhuma delas. É assim uma nuvenzita (às vezes boa, às vezes má) que anda sempre em cima da minha cabeça, em cima das "coisas" da minha vida. Mas a minha vida é muito maior e muito mais importante que as performances. Isto pode chocar radicalmente com aquela ideia clássica do valor e do peso que têm o teatro e a profissão de actor, que seria sempre algo com poder para mudar radicalmente a vida das pessoas. Aquela coisa de “dar a vida pelo teatro”. Pronto, eu não dou a minha vida pela performance; mas dou as performances pela minha vida, sempre.
GUILHERME — Então seria mais como uma espécie de fio condutor, que persegue todas as áreas... Pensando assim muito rapidamente num modelo quase “matemático”: círculos, que representam as várias áreas da tua vida, em que a performance seria quase uma linha que percorresse todos os círculos, uma vez que toca em pontos...
ROGÉRIO — Eu gostava de poder virar isso ao contrário, e dizer: a vida é que toca com os seus vários pontos nos círculos da performance. Estás a perceber? É uma questão de “posicionamento”. Se calhar para ti é mais complicado porque estás "desse lado"; para mim, é-me impossível posicionar-me na performance, porque eu não sou dela, não lhe pertenço. Isto deve ter raízes no facto de eu não ter tido formação adequada para...
ROGÉRIO — (risos) Eu posiciono-me sempre na minha vida, porque para mim a performance não é um espaço concreto de vida. Não existe. Não existe como existem “os meus amigos”, como existe “a minha mãe”, como existe “o meu pai”, como existe “o meu irmão”, como existem “as minhas roupas", etc. Agora, o que talvez possa ser importante dizer-te é: para mim a performance (ou a arte de uma maneira geral) é uma forma de pensamento. Tal como a filosofia, a matemática, a ciência, ou qualquer outra área disciplinar... (com algumas diferenças essencialmente metodológicas, ainda que eu acredite que entre Arte e Filosofia não existam grandes diferenças, mas isto já sou eu e as minhas paranóias recentes). A performance é a ferramenta que eu arranjei, ou a que a minha “vida” (me) proporcionou, de eu pensar sobre as coisas que quero pensar, de me posicionar no mundo que me rodeia e perante as pessoas com quem tenciono comunicar. Não acho nada que as minhas performances salvem a vida às pessoas, nem lhes dêem a luz para elas descodificarem os grandes temas da actualidade; não acredito em grandes dramaturgias, em grandes textos, em grandes obras; não acredito em coisas geniais; não acredito em génios... Não acredito em nada disso, mas acredito em trabalho, acredito no pensamento e acredito que posso contribuir para que outras pessoas à minha volta possam pensar comigo. É um bocadinho aquela coisa de “várias cabeças a pensar pensam melhor que uma só”, é só isso. Podia pensar de outra maneira, podia fazer equações matemáticas, podia andar a desenterrar esqueletos na Tanzânia à descoberta da origem do Homem, podia fazer milhões de coisas diferentes...
ROGÉRIO — ...foi a que veio ter comigo! Não foi a que eu achei mais adequada, eu não a construí, não a antevi... Eu vim para Lisboa estudar Comunicação Social e dei por mim a fazer teatro no grupo da faculdade. Daí para a frente fui dando por mim em sítios: dei por mim a ser convidado para não sei o quê e lá vou eu, dei por mim a fazer uma audição para não sei quem e lá vou eu. E de repente dou por mim a escrever, e de repente dou por mim a pensar em possibilidades performativas, e de repente dou por mim muito irritado com uma série de coisas que me deprimem e me deixam desgostoso e que eu quero muito mudar e que eu quero muito manifestar-me contra ou a favor... E de repente dou por mim e estou a fazer performance.
ROGÉRIO — Às vezes são. O FUI que fiz na Casa Conveniente foi bastante catártico. Mas nunca é uma catarse no sentido de... Eu não resolvo a minha vida nas performances...
GUILHERME — Não clarificas, não analisas a tua vida?
ROGÉRIO — Não... Ou melhor, a minha vida, ao resolver os seus problemas, atira com restos para dentro das performances, muitas vezes. Tipo caixote do lixo, estás a ver?
GUILHERME — Eu não digo que pegues na performance para resolveres a tua vida... Pergunto é se essa necessidade de catarse te impulsiona para criares a performance. Tens motivações criativas, certo?
ROGÉRIO — Tenho, claro. Vou ter que me repetir: essas motivações criativas são as coisas que me acontecem na vida. Se na minha vida surge uma vontade de desbloquear qualquer coisa catarticamente, isso até pode passar para a performance, mas será sempre num segundo plano, será sempre na condição de resíduo. Trata-se, uma vez mais, de uma questão de posicionamento: começo sempre por mim, começo sempre por aquelas coisas que existem independentemente de existir a performance. Não ando propriamente a fazer nas peças aquilo que a vida não me deixa fazer. E a "catarse", quando existe, nunca é nem uma opção estética, nem um pressuposto "terapêutico", duas coisas que recuso...
GUILHERME — Acho que começo a perceber... Mas como é que tu achas que as pessoas apreendem o teu trabalho? Eu estou a falar especificamente do único trabalho “de palco” teu com o qual tive contacto, espectáculo em que houve pessoas a sair a meio...
ROGÉRIO — Essa questão interessa-me realmente; é uma das minhas maiores preocupações. Mas também é certo que tenho alguma dificuldade em falar sobre isso; acho que ainda não recolhi material e experiência suficientes que me permitam responder-te de uma forma mais conclusiva. À medida que eu for desenvolvendo o "Projecto de Documentação", é possível que venha a conseguir mais respostas. O que te posso dizer por agora é que, se me perguntas como é que as pessoas apreendem o meu trabalho, eu automaticamente penso em questões de eficácia; eficácia na comunicação de uma ideia... A eficácia inerente ao formato que tu escolhes para apresentares as coisas que queres apresentar, por exemplo. Como tudo isto está essencialmente ligado a uma qualquer ideia de execução, e tendo em conta a minha alergia a um tipo de trabalho que se preocupa em demasia com a obtenção de uma certa “qualidade performativa” (colocada ao nível daquilo que realmente acontece em palco), sinto que não tenho, de facto, um perfeito domínio desses materiais e dessas formas ou fórmulas de apresentar as coisas. E não sei se devo, ou se quero, ter esse domínio; sei que fujo dele a sete pés quase instintivamente. E há algo que me faz respeitar isso, pelo menos por agora. Já tive experiências em que senti que o formato era perfeito e que estava a ajudar-me a dizer aquilo que eu queria dizer, mas também já me aconteceu sentir que não fiz propriamente as melhores escolhas em termos de “técnica performativa”, se é que posso dizer assim. E quando isso acontece é exigido ao público um maior grau de...
GUILHERME — ...raciocínio?
ROGÉRIO — ...para estar ali a descodificar aquelas coisas, sim. Mas também uma grande dose de disponibilidade para te propores a entrar num território onde te é pedido para “pensares comigo”, muito mais do que para apreciares as minhas construções imagéticas, as minhas concepções plásticas ou as minhas conclusões filosóficas. Nesse sentido, eu não tenho rigorosamente nada para dizer, nem me interessa. De facto, não dou importância àquilo que acontece no momento presente em que a performance acontece. Nesse sentido, é perfeitamente natural que aquilo que acontece se inscreva num território embebido num espaço de grande imprevisibilidade e num tempo muito diluído, vago e ambíguo. Muita coisa foge completamente do meu controlo, porque de facto eu não estou concentrado aí. E se isto já é tudo muito complexo ao nível do pensamento, se ele não é exteriorizado da melhor maneira, torna-se complicado para quem vê... Sobre isso que tu falaste, das pessoas que saíram a meio do espectáculo, eu acho que se trata de um assunto que toca já noutras coisas que não têm propriamente a ver com a eficácia. Até porque eu sei especificamente porque é que essas pessoas saíram. Sem querer generalizar (seria uma avaliação meramente especulativa), eu acho que o que faz com que um espectador saia de uma sala tem quase sempre a ver com questões ligadas ao gosto. E este é, também, o meu ponto de vista como espectador: aquilo que faz com que eu tenha uma vontade tremenda de me ir embora, de não estar ali, de não concordar com a minha condição de espectador metido naquele espaço (que é um direito que me assiste enquanto espectador, mas também enquanto ser humano), prende-se com questões ligadas a uma certa ética do gosto; as coisas que eu “defendo”, que sustentam em parte os alicerces daquilo que eu gosto, não permitem que eu olhe para isto ou para aquilo, e então eu saio (quando posso, claro...). Isto pode ter a ver com preconceito, e é-o, em parte. No caso das pessoas que saíram, fizeram-no porque têm um pré-conceito daquilo que é ou do que tem que ser um espectáculo de teatro; e aquilo que apresentei estava completamente desenquadrado desse pré-conceito. Porquê? Porque em termos daquilo que lhes foi proposto do exterior, não por mim!, o meu espectáculo não admitia qualquer tipo de enquadramento. E já dizia a Lúcia Sigalho: “As pessoas não suportam estar desenquadradas...”. Eu acho que é este o interesse que o projecto FUI tem: não fui eu que propus um espectáculo de teatro, foi o mostraTE, foi o Teatro Taborda, foi a Câmara Municipal de Lisboa e foi a EGEAC, através daquela “organização”, que propuseram aquele espectáculo como sendo um espectáculo de teatro criado ou concebido por um jovem criador que ainda não chegou aos 30 e que tem apresentado propostas teatrais na cidade de Lisboa. Aquela Mostra (como aliás qualquer mostra ou festival) tem uma organização e tem um pensamento independentes de cada um dos projectos que lá são apresentados. Aquelas pessoas foram ao Taborda com a intenção de ver projectos que se enquadrassem na imagem que criaram daquilo que lhes foi comunicado, que era: criadores jovens que fazem teatro em Lisboa.
GUILHERME — Só que a organização não especificou foi o tipo de teatro...
ROGÉRIO — Pois não. Mas também não sabiam, coitados... (risos) Repara: ao público da Mostra pouco interessa o criador; eles não vão ver o criador, vão ver a Mostra.
GUILHERME — Estando na sala ao mesmo tempo que as pessoas que saíram, olhei aquilo quase como uma recusa de apreensão daquilo que tu tinhas para dizer naquela altura, daí que eu tenha ligado as duas perguntas...
ROGÉRIO — Mas isso tem muito a ver com o contexto. Eu acredito piamente que se aquelas mesmas pessoas vissem este mesmo trabalho num outro contexto — num festival como o A8, em Torres Vedras, por exemplo, que é um “festival de artes contemporâneas em contextos locais”, e que tem uma estratégia comunicativa completamente diferente —, provavelmente teriam aceite. E mais: tendo em conta que sei que aquelas pessoas que saíram (e que depois comentaram no meu blog) eram pessoas do “meio” da dança, também acredito piamente que teriam ficado até ao fim se aquilo estivesse inserido num festival de dança/performance. O projecto FUI não tem um tema definível; ele alimenta-se destas coisas todas. A minha proposta para o mostraTE (que pode ser lida superficialmente como uma “provocação”) foi, justamente, pôr as pessoas a pensar sobre a razão de estarem ali, e para o que é que aquilo serve afinal? Há uma série de coisas que fazem parte do contexto cultural português (nomeadamente o micro-contexto lisboeta), e também da maneira como ele funciona, da maneira como ele cria expectativas no público e da maneira como ele cristaliza fórmulas e cristaliza formatos e cristaliza maneiras de apresentar as coisas e de se falar sobre elas, que faz com que o mesmo trabalho tenha uma dimensão completamente diferente para quem vê, esteja ele no mostraTE, na BoxNova, ou num sítio qualquer só porque eu o quero fazer. Repugna-me muitas vezes que o mesmo trabalho de um criador leve com um carimbo de qualidade em cima só porque está a ser apresentado na Culturgest; e repugna-me que a comunicação social só comece a interessar-se pelo trabalho de um criador que faz peças há 10 anos a partir do momento em que ele ganha o Prémio Acarte ou outro disparate qualquer. Estas coisas que me repugnam obrigam-me a ser completamente activista perante uma certa maneira de se olhar para as coisas. Se algum contributo eu posso ter no sentido de pôr as pessoas a olhar para as coisas de outra maneira, será esse: parece que andamos todos à procura do melhor espectáculo, da melhor interpretação, do melhor figurino, da dramaturgia mais sublime, do conceito mais inovador, ou do cartaz com mais logotipos, e nos esquecemos de “ver”, de facto...

GUILHERME — Em resumo: a tua vida muda a performance, a performance anda pela tua vida como uma vampira... Para que é que ela te serve afinal, a performance? Olha-la como um objectivo?
ROGÉRIO — Como disse, a performance é a ferramenta de descodificação que veio ter comigo e que eu aceitei para poder pensar sobre as coisas que me interessam. Enquanto artista, mas também enquanto ser humano, interessa-me a questão da comunicação e a partilha de ideias. É muito importante quando eu descubro qualquer coisa, quando descubro como é que posso fazer uma coisa, ou quando descubro como é que posso fazer essa mesma coisa de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, coisas banais da minha vida, que podem perfeitamente ser extrapoladas para o universo da performance: quando eu descubro um livro, quando eu descubro um sítio, quando eu descubro uma música parola do nacional-cançonetismo, quando eu descubro, apenas... Acho que é a necessidade humana de “dares a conhecer”, de partilhares os teus conhecimentos e as tuas descobertas, por mais triviais que elas sejam. Acho que é isso. A minha formação, no sentido académico do termo, é em Comunicação Social, um curso cheio de coisas perfeitamente idiotas (como todos os cursos superiores), mas que eu sou capaz de espremer para aproveitar uma série de aspectos interessantes: dois ou três professores realmente geniais que tive, e duas ou três cadeiras realmente importantes, e também algumas experiências “extra-curriculares” (risos) Uma dessas coisas importantes tem a ver especificamente com esse “dever” que te é inculcado desde o início do curso, que é o dever de partilhares o teu conhecimento com os teus semelhantes (algo que não pertence só ao universo do jornalismo e da informação; tens o cliché da ciência, por exemplo). Esta minha necessidade de comunicação (que tem raízes mais profundas que o curso de Comunicação Social, evidentemente), chega muitas vezes a ter contornos mórbidos, do tipo: “Eu tenho MESMO de dizer isto”, algo que se vira muitas vezes contra mim, por haver um excesso desse querer dizer, desse querer projectar(-me), desse querer dar(-me) a conhecer. O que acontece é que, muitas vezes, digo demais. Muitas vezes, a informação peca por redundância. Mas também te digo que é para esse excesso que vivo, de certa forma. Acho que sou uma pessoa “excessiva” por natureza. Algo disso haveria de passar para a performance. Como ela não tem o poder de mudar a minha vida, acaba por servir um pouco para alimentar ainda mais essa megalomania latente. Mas não sei se isto responde à tua pergunta... Repara: há pessoas que escrevem, há pessoas que pintam, há quem se satisfaça a atender pessoas numa repartição de finanças e isso é perfeitamente suficiente para sentir que se tem uma função/missão no mundo. Eu não quero que a minha actividade como performer seja propriamente marcante, no sentido de informar as próximas gerações ou coisa que o valha... Eu já disse isto várias vezes e repito: os trabalhos dos outros criadores que existem à minha volta, e que de certa forma comunicam comigo (por afinidades profissionais, ou porque são meus amigos e temos por hábito trocar ideias, ou até mesmo porque de facto nos “contaminamos”, consciente ou inconscientemente, uns aos outros), produz efeitos muito mais marcantes (e interessantes) que os meus! Acho que todos os criadores que se inscrevem no mesmo patamar geracional que eu, ou que têm preocupações parecidas ou iguais às minhas, produzem objectos muito mais interessantes. A começar pela evidência de que eles produzem “objectos”, de facto (risos). Falsas modéstias à parte, o meu trabalho não é “interessante”! Se alguma importância existe no meu trabalho, é o dele poder funcionar quase como um barómetro... É quase como se fosse um... (gostaria de encontrar uma imagem gira qualquer que o catalogasse...)
GUILHERME — O nível da água do mar??
ROGÉRIO — A língua! (risos) Repara: na medicina tradicional chinesa, eles conseguem ver, através da língua, o estado do teu corpo todo; conseguem ver como é que está o teu coração, o teu fígado, o teu estômago, as tuas costas. Acho que o meu trabalho pode muito bem ser a língua das artes performativas em Portugal (risos). Acho que ele reflecte muito bem aquilo que se passa, quer ao nível da criação especificamente, quer ao nível mais “filosófico” daquilo que a informa. Esta coisa do teatro ser cada vez mais íntimo, de ser cada vez mais uma coisa tu cá, tu lá, de eu poder olhar o espectador nos olhos e perceber o que é que ele quer especificamente, trabalhando com isso... Isto não é só uma preocupação do meu trabalho; há muitos criadores que trabalham sobre isso, só que não transformam isso na razão de ser de tudo aquilo que fazem, pois há sempre outras motivações, mais ou menos importantes, que informam o trabalho. Podia falar-te doutro tipo de preocupações, como por exemplo a maneira como os criadores se posicionam perante a política cultural deste país, que está a matar toda e qualquer possibilidade de desenvolvimento cultural... Todas essas coisas estão no meu trabalho a um nível de tese, a um nível de “vou pensar sobre isto agora, e vou transformar esse pensamento no meu trabalho”. Ou seja, não quero que isso seja apenas lido nas entrelinhas; quero que isso seja, de facto, as “linhas”. Sou muito observador daquilo que se passa à minha volta. Reajo a tudo aquilo que vejo, a tudo aquilo que me é dado a ver, e transformo isso no meu objecto de estudo. Nesse sentido, acho que sou a língua (que por muito interessante que seja como parte do corpo, convenhamos que jamais chegará aos calcanhares do coração ou do fígado).
GUILHERME — Tomas isto como uma performance, isto que nós estivemos a fazer agora?
ROGÉRIO — Uma performance é um contrato, um acordo, um compromisso entre duas partes: uma que se diz autora/criadora de um objecto artístico e outra que se diz espectadora/consumidora desse mesmo objecto artístico. Para haver performance, é só preciso haver estes três elementos, mais nada. O Peter Brook explicava-te isto melhor... (risos) No meu ponto de vista, dos três elementos essenciais que são precisos para haver performance, o mais importante de todos é, sem dúvida, esse contexto comum que une as duas partes, esse compromisso, ou melhor, essa vontade. Acho que é mesmo nessa questão da vontade que eu coloco toda a energia que é necessário convocar para que haja um "encontro performativo". Neste nosso caso, falta esse “contrato”, logo, não me parece que haja performance. Pode haver performance num sentido qualquer antropológico, que a ti te interessa, obviamente: aquelas pessoas que estão sentadas naquela mesa a conversar estão em performance; há uma série de rituais associados à maneira como se sentam, à gestualidade, à proximidade, que faz com que aquilo possa encerrar um tipo qualquer de performatividade cultural. Mas trata-se de um nível disciplinar que não é o “artístico”. Agora, se me perguntas se isto é importante para a minha actividade como performer e como criador, sem dúvida que é, e porquê? Porque faz (está a fazer) parte da minha vida.
GUILHERME — Achas que a entrevista correu bem? Alguma pergunta que eu devia ter feito e não fiz?
ROGÉRIO — Eu gosto imenso de falar, ao contrário de um número bastante grande de criadores, que detestam falar sobre o trabalho que fazem. Eu respeito imenso essa postura, mas afasto-me radicalmente dela. Não acredito nada que os trabalhos digam tudo o que há a dizer, não acredito que eles falem por si, que “esteja lá tudo o que há para dizer”. Isso era há uns dois séculos atrás, quando cada quadro continha dentro a energia anímica total do pintor e explicava a razão de ser de tudo e de todas as coisas, de uma forma incrivelmente sólida e intransigente. Hoje, é muito bom que o criador fale, e que fale muito! Para mim, é a zona do discurso artístico que mais me interessa — a do artista a falar sobre aquilo que faz, ou que fez, ou que acabou de fazer... E sinto que essa é também uma das zonas do meu próprio discurso que mais sentido faz no conjunto do meu trabalho. Os meus objectos são muito pouco objectuais, precisam de ajudas várias para se aguentarem de pé. Adoro que me “obriguem” a falar, como tu o estás a fazer agora. Isso produz algo que chega a ser maior que a obra, pois está completamente embebido na vida. Na minha e, neste caso, na tua também. E por acaso, também, ali na vida da mesa ao lado, que está a ouvir a nossa conversa desde o início... (risos) Isto tudo informa muito o meu trabalho e a maneira como eu vou fazer as coisas a seguir. De resto, e assim de repente, acho que não há mais nada que possa dizer-te que não tenha dito antes.
GUILHERME — Então acho que ficamos por aqui.
Esplanada da FCSH, Lisboa, 2005